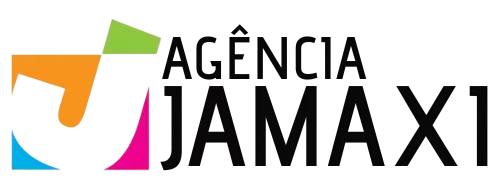Manaus (AM) – O Amazonas tem 1.682 escolas geridas por prefeituras em áreas onde se localizam povos e comunidades tradicionais, assentamentos e comunidades quilombolas, além de terras indígenas. Quando o assunto é saneamento básico, há uma disparidade: de 90% das escolas, cerca de 1.509, têm acesso à água potável, mais da metade das escolas (870) não têm nenhum tipo de esgotamento sanitário e 50% das unidades escolares queimam o lixo. É o que revela a análise da Agência Jamaxí com base nos dados do Censo Escolar de 2024 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Das 1.682 escolas, somente três estão localizadas na Zona Urbana (todas as três em terras indígenas). Do restante das unidades escolares, 1.679 está na Zona Rural, sendo: 103 na área de assentamento, 485 em áreas onde se localizam povos e comunidades tradicionais, 9 em comunidades quilombolas e 1.085 em terras indígenas.
Os municípios de Apuí, Caapiranga, Codajás, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Silves registraram no Censo Escolar de 2024 que não existiam unidades escolares em comunidades tradicionais, quilombolas, assentamentos e/ou terras indígenas.
A Escola Indígena Municipal Kunyata Putira, localizada na comunidade São Thomé, na margem esquerda do Rio Negro e distante a mais de 120 km de Manaus, é uma das escolas em que o saneamento básico é precário. A anciã da comunidade e parteira, Petronilia Leite, de 63 anos, explicou como eram as dificuldades para poder ter água ‘potável’ para beber e para fazer a merenda na escola e na comunidade.

“Naquele tempo não tinha água encanada, não tinha nada de ‘facilidade’ como tem agora. Eu carregava água da beira para a escola, enchia duas panelas grandes que tinha, fazia fogo na lenha para botar aquela água para ferver e tampar. No outro dia, coava para botar nos filtros de barro”, disse Petrolina.
Outra forma de pegar água, além do rio, são nas cacimbas da comunidade, que aparecem com a chegada da estiagem, quando o rio seca. Mas, o processo para ter acesso à água potável, também, é difícil.
“Água suja não é muito boa. Olha, nossas cacimbas, quando secam, só vê como fica a água. A gente pegava a água, trazia pra cá, para coar, num pano para a água ficar melhorzinha, ainda botava um cloro dentro para poder tomar”, explicou o cacique Manoel Chagas do povo Baré.
Miriam Baré, professora indígena, artesã e pós-graduanda em Educação Especial, pede que as comunidades indígenas, principalmente na Zona Rural, tenham acesso às políticas públicas e ao saneamento básico.
“Tem que se buscar mesmo políticas públicas para ver se as comunidades indígenas, como a nossa e outras, têm esse acesso de verdade à água potável. Porque acreditamos que, assim como a floresta precisa ter todo um cuidado, nós também, os povos indígenas, precisamos”, disse Miriam Baré.

As comunidades tradicionais, assentamentos, comunidades quilombolas, e terras indígenas sofrem com a falta do básico: água potável, esgotamento sanitário e recolhimento dos resíduos sólidos.
“Precisamos ter esse acesso de verdade de água potável, saneamento básico, educação e saúde, porque ainda, apesar de a gente ter melhorado, ainda falta muito para a gente. Precisamos chegar a um patamar em que a gente possa dizer: hoje, eu não estou mais preocupada com a educação do meu filho, com a educação do meu neto, porque já é garantido em lei, já é garantido na nossa comunidade, é garantido na escola”, destacou Miriam.
Depois de décadas esperando água potável, a escola conta atualmente com um poço de 40 metros, o que não é suficiente para suprir a necessidade. Há um outro poço, com cerca de 80 metros, o que ajuda a comunidade a ter água durante as aulas.
“Melhorou bastante com esse poço que fizeram, parou um pouco mais a diarreia, a febre, muitas coisas que apareciam às vezes nas crianças. A gente espera que cada vez vá melhorando”, destacou o cacique Manoel.

Para o funcionamento do poço, é preciso energia elétrica, que na comunidade é limitada. Além disso, para que o abastecimento de água chegue a todos os moradores, seria necessário uma rede de água encanada, o que não ocorre.
“Hoje a gente tem um poço, tem dois poços, na verdade, mas um não é adequado porque tem 40 metros e o outro, que tem quase 80, não tem estrutura devida, que apesar de ele ser cavado, a gente não tem energia elétrica para abastecer quando precisa. Nós somos 18 famílias aqui, 18 casas, mas muitas das vezes têm casas que não tem um pingo de água, porque a água não é encanada, ela vem por meio da borracha de plástico. Com o sol e a chuva, elas acabam furando. Então, quando chega nas nossas casas, não chega como sai do poço, filtrada e potável, ela acaba, de uma maneira ou outra, prejudicando a saúde”, comentou Miriam.
Cadê o saneamento básico na Zona Rural de Manaus?
A capital amazonense é o único município amazonense que tem um contrato de concessão, assinado em agosto de 2018, de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
O contrato, porém, não inclui a área rural da capital. Na página 31 do documento, nas seções que descrevem a cobertura do serviço de água e de esgoto, a cláusula de concessão é clara ao ressaltar que a cobertura é apenas para a população urbana de Manaus. Atualmente, a cobertura de esgoto na Zona Urbana de Manaus chega a 40%, a meta é alcançar 90% até 2033.
A Agência Jamaxí entrou em contato com a prefeitura de Manaus e questionou sobre as ações para Zona Rural da capital amazonense, porém não obteve retorno. Clique aqui e veja o e-mail enviado para a Secretaria de Comunicação da gestão municipal.

Água não tão potável assim
A análise dos dados do Censo Escolar sobre saneamento básico mostra que o acesso à água nas instituições de ensino geridas por prefeituras no interior do Amazonas, a maioria das escolas 90% (1.509 unidades), declararam ter acesso à água potável. A forma de captação da água é o que chama atenção.
Apenas 10% (136 escolas) são atendidas pela rede pública de distribuição. A maior parte depende de poços artesianos (384 escolas), cacimbas (131 escolas) e da captação direta de água de rios (1.171 escolas).
Em São Gabriel da Cachoeira, 197 das 207 escolas ativas dependem da água do rio para consumo, o maior número entre os municípios do estado. Tapauá aparece em seguida, com 78 escolas na mesma situação.
Já em Atalaia do Norte, 44 unidades escolares utilizam água de cacimba como principal fonte. Em Beruri, 20 escolas relatam não ter acesso algum à água potável. Alvarães, por sua vez, é o único município que declarou o uso de caminhão-pipa, duas escolas entre as 59 recebem abastecimento dessa forma.
O agente de saúde indígena da comunidade, Ítalo Baré, de 26 anos, graduando da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), afirma que ter um poço não é sinal de água potável, visto que não há a construção de rede encanada de água.

“Para o poço, a gente precisa adaptar as mangueirinhas, que também não são adaptadas da maneira correta, ficam ali em cima do solo, e sabe que nas comunidades tem cachorro, tem bicho, e aí acabo fazendo suas fezes, e como a mangueira está ali, ela está em contato direto”, destaca o agente de saúde indígena
Ercivan Gomes de Oliveira, doutor em Geografia pela Ufam, explicou que é comum nas áreas rurais o uso de poços, porém o uso de cacimba também é utilizado.
“Principalmente a água das áreas rurais são retiradas dessas águas dos poços tubulares para abastecer as águas das escolas. Claro que eles utilizam muita água dos rios. Isso, quando seca, gera um problema gigantesco. Estou falando isso da última experiência que tive nas comunidades de Tabatinga e Benjamim Constant. As escolas rurais utilizam essa água, isso impacta na saúde, com certeza na qualidade do ensino desses alunos”, disse Ercivan Gomes.
Das 1.682 escolas geridas pelas prefeituras no interior do Amazonas, 131 escolas disseram ao Censo Escolar de 2024 que têm acesso à água por meio de cacimba.
“O uso de cacimbas já diminuiu bastante. Eu vi o uso em uma comunidade chamada ilha de Santa Rosa, em frente a Tabatinga. Mas os dois, cacimba e poço, são extremamente degradantes porque não passam por nenhum processo de clorificação da água, retirada de algumas bactérias, e nem a retirada de sedimentos. Isso é extremamente degradante para a saúde”, explicou o doutor em Geografia.
Sem esgoto
A situação do esgoto é ainda mais crítica. Apenas 12 escolas estão ligadas à rede pública de coleta e tratamento. A maioria depende de fossas: fossa séptica (339), fossa comum (462) ou fossa genérica (801). O dado mais preocupante é que 870 escolas declararam não ter nenhum tipo de esgotamento sanitário, o que representa mais da metade do total.
O engenheiro civil da empresa Avanço S/A, Iago Teixeira Chíxaro, explica as diferenças dos tipos de fossas e como elas prejudicam o meio ambiente.

“O perigo da fossa normal é que ela não faz a separação e a filtragem do esgoto. A fossa séptica tem essa separação, que é a fossa, o filtro e o sumidouro. A fossa recebe esse dejeto, o filtro vai decompor, separar o material sólido do material líquido e o sumidouro que vai destinar o material líquido para o solo. A fossa normal não faz isso, ela só recebe esse material, o líquido e o solo. A destinação dela é incorreta porque acaba contaminando o solo”, explicou o engenheiro.
A Escola Indígena Municipal Kunyata Putira, na comunidade São Thomé, é uma das escolas em que o esgotamento sanitário é realizado por meio de fossas. O cacique do povo Baré mostrou que as fossas são internas dentro das casas.
O agente de saúde indígena da comunidade revela que a falta de saneamento levou à comunidade a não ter tantas doenças hídricas. Apesar de algumas melhorias, a comunidade ainda necessita de saneamento de qualidade.
“O rotavírus, era bem frequente. Hoje, na questão do saneamento, melhorou um pouco, mas ainda não é suficiente para suprir a necessidade da comunidade. O saneamento básico ainda é muito baixo ainda, não é o ideal, mas, como a necessidade ainda persiste aqui, a gente usa dessa maneira até que um dia melhore”, comentou Ítalo Baré.
Em sua tese de doutorado “Análise dos impactos socioambientais nas bacias hidrográficas nas cidades de Tabatinga e Letícia na Amazônia“, Ercivan Gomes de Oliveira identificou que não há saneamento básico nas comunidades rurais de Tabatinga.
“Identifiquei uma ausência de saneamento básico. Como está no próprio Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SINIS). Morei, por 7 anos, na cidade de Tabatinga. O nosso estado é zero no tratamento de água nas comunidades rurais”, destacou Ercivan Gomes.

Outro ponto levantado pelo doutor Ercivan Gomes em sua tese é a falta de tratamento de águas residuais, são as águas que são usadas para lavar louça, no próprio banheiro, etc.
“Não tem nada que faça o tratamento dessa água quando retorna para a natureza, os rios. A gente não tem esse tipo de tratamento. Não existe esse tratamento no interior do Amazonas”, revelou o doutor em Geografia.
Lixo ‘sufoca’
O professor da Ufam, doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e especialista em Resíduos Sólidos, Rodrigo Couto Alves, destaca que a queima de lixo é proibida pela legislação ambiental brasileira. E que há a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), regulamentada pelo Decreto nº 10.936/2022, que estabelece que os resíduos devem ter destinação ambientalmente adequada, priorizando a redução, a reciclagem e o tratamento, nunca a queima a céu aberto.
“No Amazonas, a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 4.457/2017) reforça essa obrigação, exigindo que os municípios e instituições públicas, inclusive escolas, adotem práticas de gestão sustentável e elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) também prevê punição para quem causar poluição por queima de resíduos, com multas e até detenção”, comentou o professor especialista em resíduos sólidos.
Apesar de ser proibida, escolas geridas por prefeituras no Amazonas ainda realizam essa prática. Mais de 55,2%, ou seja, 1.487 escolas públicas em comunidades tradicionais, assentamentos, quilombolas e terras indígenas recorrem à queima de lixo como única forma de descarte dos resíduos sólidos. Ou seja, 9 em cada 10 escolas não possuem qualquer tratamento de lixo.
O Cacique Manoel Chagas, da Comunidade São Thomé, relata que a queima de lixo era realizada na comunidade, porém há pouco tempo, o serviço de coleta de lixo público chegou para atender à comunidade uma vez por semana.
“O lixo nós queimávamos. Agora nós não estamos mais queimando o lixo, nem plástico, nem isso, nem aquilo. Estamos juntando aquela casinha com lá, o pouco que tem, né? Aí vem a balsa para fazer a coleta do lixo”, destacou o cacique do povo Baré.
Rodrigo Couto aponta que a falta de infraestrutura e fiscalização contribui para práticas que comprometem o meio ambiente e a saúde pública.

“Infelizmente a queima do resíduo sólido é uma realidade no Amazonas, principalmente no interior do estado. Seja nos próprios lixões ou em áreas rurais como forma de destinação dos resíduos domiciliares”, destaca o professor da Ufam, Rodrigo Couto.
A coleta regular do lixo é uma realidade somente para 60 escolas, em 15 municípios do Estado, a maioria ocorre em Manaus (14); Presidente Figueiredo (9) e São Gabriel da Cachoeira (7).
O professor Rodrigo Couto Alves revela que o principal desafio é garantir a fiscalização e o suporte técnico nos municípios do interior, onde faltam coleta regular e infraestrutura adequada.
“Em muitos municípios do interior, o quadro de servidores é significativamente reduzido, não permitindo um trabalho de fiscalização adequado. Nesse cenário, é essencial investir em educação ambiental (em todos os níveis) e planejamento local (curto, médio e longo prazo), para que as escolas e demais instituições, deixem de recorrer à queima do resíduo e se tornem referências em boas práticas ambientais no decorrer do tempo (nada é imediato)”, destaca.
Ele frisa que a queima de resíduos é extremamente prejudicial à saúde e ao meio ambiente porque libera gases tóxicos (monóxido de carbono e dióxido de enxofre), além de partículas finas que afetam o sistema respiratório e cardiovascular.
“A situação piora quando há queima de plásticos, pois são geradas dioxinas e furanos (substâncias cancerígenas e persistentes no ambiente). No contexto do Amazonas, isso agrava ainda mais a poluição atmosférica, que já sofre com as queimadas florestais que ocorrem no período do verão”, comentou.
Infraestrutura precária
Um terço das escolas geridas pelas prefeituras em comunidades tradicionais, quilombolas, assentamentos e terras indígenas ainda funcionam sem banheiro. Ou seja, 558 escolas não favorecem a saúde e higiene dos alunos e profissionais de educação. Somente 3%, ou seja, 50 escolas, têm banheiro próprio para a educação infantil. Quando se olha para as Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), a porcentagem aumenta bem pouco, 4,8%, ou seja, 81 escolas possuem banheiros adaptados para PNE.
Se para as próprias crianças quase não há banheiro, para os funcionários a situação é igual. Somente 110 escolas disseram ter banheiro para os profissionais de educação, e somente 71 escolas dizem ter chuveiro no banheiro.


Essa é também a realidade da Escola Indígena Municipal Kunyata Putira construída em 1994. A unidade escolar tem somente dois banheiros, um feminino e outro para masculino. Não há banheiro para funcionário, nem um próprio para educação infantil.

“A nossa escola já teve duas revitalizações, mas não são reformas de acordo como a gente quer como povo. Um banheiro específico só para PNE, específico só para as crianças, específico só para professores, específico só para funcionários. A gente usa dois banheiros, ali os adultos usam, os funcionários usam, os professores. Como a gente gostaria que as nossas crianças da educação infantil tivessem banheiro próprio”, indagou a professora da Escola Indígena Municipal Kunyata Putira, Gûaînumby Baré, de 42 anos.
Invisíveis da Amazônia
O que se encontra na zona rural e nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e assentamento é a precariedade dos serviços de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Os moradores dessas comunidades se tornaram os invisíveis da Amazônia. Há projetos como o Novo Marco Legal de Saneamento que está no papel, mas não analisou o dia a dia das pessoas que moram nessas áreas.
“É constrangedor, a gente vê nas mídias que têm um projeto, tem um plano, mas, quando a gente olha para dentro do nosso território, a gente vê que é uma política construída sem a nossa consulta. É um projeto político estruturado pelas suas próprias concepções, pelo próprio pensamento dos governos, e eles não vivem essa realidade”, desabafou Miriam Baré.
Ela ressalta que os povos indígenas que vivem nessas comunidades devem ser consultados para que as políticas públicas cheguem a todos.
“O correto é primeiro consultar os povos indígenas, visitar, fazer essa busca, fazer essa pesquisa, porque nenhuma comunidade, desde próximo de Manaus até a última comunidade, foi consultada. A gente não vê esse projeto, essa política, tudo o que eles falam, esse benefício, não estão incluídas as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais e as comunidades indígenas. É um plano que nunca vai ter uma estrutura positiva, porque os povos e as comunidades não estão sendo incluídos. Isso é um interesse econômico, político, não um interesse social para os povos que vivem nessas regiões”, explanou Miriam.
Direitos só no papel
Educação, saúde e saneamento básico, direitos que estão na Constituição Federal, mas, ainda são apenas um sonho para essas comunidades.
“Eu sonho muito é ver essa comunidade estruturada com ensinamento básico, uma educação de realidade, verdade e direito para cada um da nossa geração, e uma saúde de qualidade. Só assim será possível assegurar que a ancestralidade e o conhecimento tradicional sigam sendo transmitidos às próximas gerações”, finalizou Miriam Baré.

Há investimentos, falta prestação de contas
Os municípios do Amazonas recebem investimentos para educação, infraestrutura e saneamento básico, mas quando se olha para as prestações de contas, vemos que há uma desproporção em relação aos valores que são recebidos e o que é feito nas cidades.
Um dos programas em que há essa diferença é o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) lançado em 1995, na época chamado de Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE). Criado para fornecer assistência financeira às escolas, visando à melhoria da infraestrutura física e pedagógica.
Segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), somente em 2024, o valor previsto para ser pago aos municípios no Amazonas era de R$30.164.590,00. Porém, 2.852 escolas em 54 cidades, incluindo a capital, tiveram os investimentos no programa PDDE suspensos, devido às suas prestações de contas.
Cerca de 28%, ou seja, 799 unidades de ensino gerido por prefeituras enfrentam suspensão dos repasses por omissão na prestação de contas, o que representa a principal causa das interrupções.
Apesar da falta de prestação de contas e de escolas sem saneamento básico, o Governo Federal pretende investir de R$23.917.870,00 no Amazonas até 2026, segundo o Ministério da Educação por meio do PDDE Equidade.
Esse recurso será destinado a três frentes principais:
- PDDE Sala de Recursos Multifuncionais (SRM): voltado para o apoio à educação especial inclusiva, com a aquisição de materiais e equipamentos adaptados;
- PDDE Água, Esgotamento Sanitário e Infraestrutura nas Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas: destinado à melhoria das condições estruturais básicas, como acesso à água potável e saneamento;
- PDDE Diversidades: que apoia a implementação das diretrizes curriculares nacionais, atuando em dez linhas temáticas para fortalecer a inclusão e o respeito à diversidade nas escolas.
Galeria de fotos








































Leia mais
- No AM, mais de 42 mil alunos da rede estadual farão Enem 2025
- Lula aposta em solução a tarifaço em reunião com Trump
- Futebol Feminino: veja onde assistir amistoso entre Inglaterra x Brasil
*Esta matéria jornalística é protegida pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que regula os direitos autorais no Brasil. A reprodução total ou parcial deste conteúdo, por qualquer meio, sem a devida autorização expressa do autor, é proibida e pode resultar em sanções civis e criminais. Todos os direitos reservados.